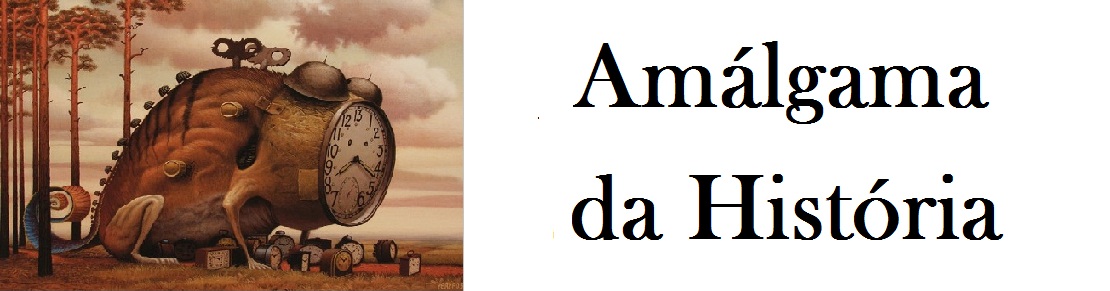Rafael Santana Bezerra
A imaterialidade que nos move ao futuro parece-nos, hoje, tão simples e natural. O compasso das alterações de seus minutos é personificado numa perfeição matemática que impressiona os ociosos. É a onomatopéia do progresso, tic-tac. Somos condicionados a senti-lo, quase adestrados a não concebê-lo de outra maneira. Os segundos dos semáforos atordoantes, caos da superpopulação metropolitana, é o tempo moderno, rasteiro, era da vivencia.
Roda Viva encorpa-se num emaranhado de musicais de protestos políticos. A força exercida pelo Regime Militar produziu inevitavelmente uma espécie de contra-poder, letras tão significativas que superavam canhões. Inúmeras produções acadêmicas propõem com maestria essas análises da obra de arte em sua funcionalidade política. Afastando-me um pouco destas perspectivas, talvez, com uma errônea ousadia, gostaria de estabelecer uma breve interpretação das significações do tempo histórico neste período.
A História não se repete. Talvez esta seja uma das máximas teóricas mais obedecidas. A elasticidade dos conceitos historiográficos produz a impressão nos ingênuos de uma igualação dos acontecimentos. Um erro que ignora o instante como um relâmpago que ilumina os passos da História, e que, imediatamente se esconde na escuridão do desconhecido. O fato histórico é somente esta partícula, visível por um momento, essa faísca do conhecimento acessível, ou ainda, um tempo saturado de agoras, de instantes.
Todas essas modernizações das ações humanas perpassam, quase que inevitavelmente, na ilusão da discriminação do estado de não-razão. Ou, ainda sob os moldes do racionalismo Hegeliano: O único pensamento que a filosofia traz para o tratamento da história é o conceito simples de razão, que é a lei do mundo e, portanto, na história do mundo as coisas acontecem racionalmente (A Razão na História p.53). Estabelecer unicamente a racionalidade como movimento humano histórico é predizer o sentido de predestinação.
O sentimento é a forma inferior em que se pode existir qualquer conteúdo mental (p.58). Hegel ignora, absurdamente, vale ressaltar, uma das mais voluntariosas faculdades humanas, sem elas o homem não se comprometeria em distinguir-se da ordem, da força civilizatória, das formas de hegemonia. É através do estado instintivo, pela cólera, que se concretiza o improvável. Em Nietzsche, por contradição, o sentimento é aflorado, capaz, sobretudo, de relutar aos mandatos do A.I 5, de uma maneira geral, das formas de opressão: Além disso, todo homem de ação ama o seu ato infinitamente mais do que ele merece: e as melhores ações se realizam sempre num excesso de amor tal, que, mesmo quando são inestimáveis, elas só podem ser necessariamente indignas. (Considerações Intempestivas. P.77)
Roda mundo, roda gigante, roda moinho, roda pião, o tempo rodou no instante nas rodas do meu coração, Chico Buarque coloca-nos diante da continuidade histórica, ele busca as formas de alternativa, deseja alterá-las, mover a direção de um caminhar cego. Roda Viva é este sentido de eterno retorno, das desconcertantes alternâncias da criação e destruição, da continuidade e da descontinuidade. Seria, talvez, um dos maiores problemas dos historiadores: perceber o fim da permanência, o fim da obrigatoriedade de lineralidade progressista da História.
A gente quer ter voz ativa, no nosso destino mandar, mas eis que chegar roda viva e carrega o destino pra lá... É também, a poetização das forças que destroem o sujeito da ação, que transfiguram o homem em marionetes do movimento de sucessão do civilizatório. A Roda Viva é o instrumento de fabricação do estado de bem-estar, da máxima do progresso neoliberal de uma sociedade brasileira moldada pelo espírito fascista, sacrificando os não-enquadrados ele produz os pensamentos numa esteira fordista.
Sua produção é o ritual triunfante da hegemonia, Chico Buarque nos propõe em similaridades Benjaminianas o desejo da luta, da crítica: Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela... O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer.
1967 possui uma dialética peculiar, a dos sentimentos. O prodigioso modernismo tão necessário e esperado no Brasil; o medo do novo sentido pelos tradicionalistas; a certeza da catástrofe pré-imaginada pelos esquerdistas; o ódio ignorante pelos comunistas, fruto de uma construção política. Os grandes festivais realizados pela Record sintetizam através da arte o pensamento dinâmico das constantes e não declaradas lutas entre a tradição e a globalização.
As sínteses desses conflitos metaforizam-se na realidade de um movimento (tropicalismo), na exatidão de dois instrumentos: a guitarra e o violão. O primeiro é a tecnicidade que chegou ao Brasil, é a expectativa do primeiro mundo, é a antropofagia moderna de 22 às adaptações de quarenta décadas. O segundo é a problemática de encaixilhar o vindouro às tradições, é o questionamento das identidades nacionais, do espírito de pertencimento, de unicidade. É um período de ruptura, de questionamento, de descontinuidade, de Roda Viva.